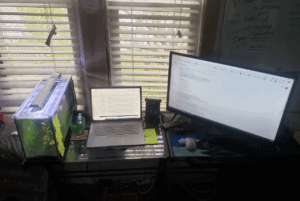Ainda sobre o vídeo do Felca
E por que leis mais duras, culpa parental e regulação simbólica são insuficientes para barrar a exploração digital infantil

No artigo Manual de instruções para vender uma criança, tratei de como a exploração da imagem infantil — inclusive para fins sexuais — não é um acidente: é um negócio. Plataformas, anunciantes e produtores de conteúdo transformam sofrimento em mercadoria. Cada clique alimenta a engrenagem. Enquanto crianças são vendidas em pacotes digitais.
Em outro texto, Endurecer as leis é a saída para reduzir os feminicídios?, mostrei que o reflexo “mais cadeia! mais pena!” cria a ilusão de ação, enquanto mantém intactas as estruturas que geram a violência. A mesma lógica se aplica à exploração infantil na internet: punir indivíduos ou responsabilizar pais dá a sensação de resposta, mas não toca nos mecanismos econômicos, digitais e algorítmicos que amplificam o problema.
Com o “efeito Felca”, uma cascata oportunista de projetos de lei invadiu o Congresso. Quase todos prometem penas mais duras, punições exemplares a pais e influenciadores, e uma regulação das plataformas tão tímida quanto ineficaz. É o kit parlamentar perfeito para redes sociais: muito barulho, mas zero coragem para enfrentar as big techs e o ecossistema que transforma vulnerabilidade infantil em produto clicável.
O que se discute e o que não se discute
Após o vídeo do Felca, surgiram projetos que proíbem a monetização de conteúdos com erotização infantil; exigem autorização judicial para menores em produções digitais; e estabelecem multas para quem expuser crianças em situações sexualizadas. Medidas que, à primeira vista, parecem firmes, mas limitam-se a responsabilizar criadores e famílias, tratando a exposição como descuido individual, enquanto ignoram o motor econômico e digital que incentiva, recompensa e viraliza esse conteúdo. As big techs, por sua vez, continuam blindadas — chamadas apenas a “colaborar” e “monitorar” — sem que seus algoritmos ou modelos de monetização sejam tocados.
A crença de que leis mais duras resolveriam o problema da exploração de crianças e adolescentes é ilusória. O Brasil já possui legislação rigorosa, mas a violência e o trabalho infantil não param de crescer. Em 2023, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou 64,2 mil estupros de menores de 14 anos, com taxa seis vezes acima da média nacional na faixa entre 10 e 13 anos. Segundo dados do Disque 100, 84% das agressões contra crianças e adolescentes são cometidas por familiares, e nove em cada dez vítimas já haviam sofrido violência antes.
Estima-se que entre 250 mil e 500 mil crianças no país estejam envolvidas em prostituição infantil; o Brasil é o segundo pior caso de tráfico sexual de crianças e adolescentes no mundo. Enquanto isso, a SaferNet recebeu quase 72 mil denúncias de abuso e exploração sexual de menores na internet em 2023, recorde desde 2006, com aumento de 77% em relação a 2022. O Brasil ainda ocupa o quinto lugar mundial em consumo de material de pedofilia online, com cerca de cinco crianças vítimas por dia.
Em relação à exploração do trabalho, a situação não difere. Entre 2023 e 2025, 6,3 mil menores foram resgatados de situações de trabalho infantil, sendo 86% em condições consideradas as piores formas de exploração, com graves riscos ocupacionais e impactos na saúde e no desenvolvimento. Somente em 2023, 2.564 crianças foram retiradas dessas condições. A jornada semanal é extensa para muitos: 20,6% das crianças trabalham 40 horas ou mais por semana. O rendimento médio mensal é de R$ 771; entre aqueles nas piores formas de trabalho, a média é ainda menor: R$ 735.
Vale ainda mencionar o recorte racial e os padrões de gênero da violência e do trabalho infantil: crianças negras ou pardas representam 62% das vítimas de violência sexual e 65% dos trabalhadores infantis, superando sua proporção na população geral (59,3%). Meninos correspondem a cerca de 64% dos casos de trabalho infantil, concentrados principalmente em setores como construção civil, venda ambulante e serviços mecânicos. No caso da violência sexual, o padrão se inverte: 77% das crianças até 13 anos vítimas são meninas. Entre adolescentes, a desigualdade é ainda mais marcada: 90% das vítimas são meninas. Os agressores, por outro lado, são esmagadoramente homens (mais de 95%).
Esses números são agravados pelo fracasso do sistema de justiça. Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), menos de 10% dos casos de violência sexual contra menores chegam a ser denunciados; na exploração sexual, o índice cai para 7%. A maior parte sequer se transforma em inquérito, e quando chega ao Judiciário, menos de 1% resulta em condenação efetiva. Delegacias carecem de equipes especializadas, provas digitais desaparecem rapidamente e plataformas demoram a responder a ordens judiciais, inviabilizando investigações. O sistema opera em marcha lenta, prescrevendo casos enquanto vítimas enfrentam revitimização em depoimentos e audiências, o que desestimula denúncias. O resultado é um ciclo de impunidade: uma legislação que existe apenas no papel e um aparato estatal incapaz de proteger de fato.
Esse quadro se alimenta de um contexto cultural permissivo, que naturaliza a exposição e a adultização da infância como entretenimento e renda. O Brasil carrega um histórico de sexualização precoce e objetificação de corpos infantis — visível na publicidade, na televisão e em expressões culturais populares, onde os limites entre o lúdico e o sexualizado sempre foram borrados.
Além disso, a exploração do trabalho infantil — incluindo a sexual — está profundamente enraizada em desigualdades econômicas estruturais. A miséria, a precariedade de acesso à educação e a ausência de perspectivas sociais criam o terreno fértil para redes de aliciadores explorarem famílias em situação de vulnerabilidade. O que é vendido como “oportunidade” ou “renda extra” surge, na realidade, como porta de entrada para uma engrenagem de violência: crianças passam a ser mão de obra descartável ou objetos sexuais à serviço do lucro.
Essa lógica se estende ao universo digital: Em 2024, somente no Brasil, o mercado de criação de conteúdo digital gerou 389 mil novas ocupações. O número de brasileiros que monetizam conteúdo digital aumentou 14% nos últimos dois anos. A maioria dos criadores de conteúdo no Brasil sobrevive com até R$5.000 mensais. A apenas 6% conseguem ultrapassar a casa dos R$20.000 mensais. Já as big techs lucraram US$ 327 bilhões em 2023, com faturamento de US$ 1,59 trilhão e elevadas valorizações de mercado.
É nesse contexto a herança cultural se mistura à lógica de mercado, “talento precoce” e “carisma infantil” se transformam em ativos. Famílias acuadas economicamente passam a oferecer o “talento infantil” de seus filhos como moeda de sobrevivência e distração pública, incentivadas a buscar visibilidade a qualquer custo afim de converter engajamento em moeda — enquanto as plataformas abocanham bilhões.
O resultado é perverso: a exploração digital infantil torna-se invisibilizada quando normalizada no cotidiano, e amplificada quando escândalos virais geram ondas curtas de indignação pública, logo engolidas pelo próximo trending topic. Sem mudanças estruturais — nos algoritmos, na responsabilização efetiva das plataformas, no funcionamento da justiça, mas principalmente, na lógica capitalista que transforma tudo em mercadoria — o problema seguirá intocado, protegido pela indiferença cultural e conivência institucional.
O que deveria estar na pauta
Se o Parlamento quisesse realmente proteger crianças e adolescentes, precisaria ir muito além de medidas simbólicas e atacar os mecanismos que possibilitam a exploração digital. Isso inclui obrigar plataformas a revelar critérios usados para recomendar e moderar conteúdos, expondo a engrenagem que amplifica a exposição de crianças e adolescentes.
Seriam necessárias auditorias independentes, técnicas e públicas, capazes de medir o impacto das plataformas sobre menores, identificar riscos ocultos e propor ajustes sem depender da “boa vontade” das empresas. Configurações seguras por padrão deveriam bloquear automaticamente conteúdos problemáticos, evitando que cada família assuma sozinha a proteção dos filhos.
Proibir a monetização e veiculação de anúncios em conteúdos envolvendo menores cortaria diretamente os incentivos financeiros que movem influenciadores e produtores. Investir em educação digital crítica permitiria que crianças e adolescentes compreendessem como a lógica das plataformas molda comportamentos e decisões — criando resistência à manipulação algorítmica.
Sem esse conjunto de ações mínimas, qualquer iniciativa “contra” a exploração digital infantil — mesmo aquelas que sugerem regular as big techs — não passa de marketing legislativo e governamental. Propõem punir indivíduos, responsabilizar famílias e dar puxões de orelha nas plataformas, mas não ousam tocar nas plataformas e seus algoritmos — o motor silencioso que mantém a máquina de exploração funcionando. Sem quebrar essa engrenagem, toda regulação técnica ou punição individual será apenas espetáculo político, incapaz de proteger efetivamente os menores.
Mas, em última instância, o que precisamos mesmo entender é que a exploração digital infantil não é um simples problema de fiscalização e/ou responsabilização individual; é parte integrante de um modelo de negócios. Cada clique, cada visualização, cada interação alimenta o lucro das big techs enquanto transforma crianças em mercadoria. É a mesma lógica da superexploração do trabalho infantil, que atinge com força os setores mais precarizados e vulneráveis da classe trabalhadora. Combater a violência digital contra menores, portanto, exige muito mais que regulação técnica e judicial, exige um enfrentamento direto à estrutura econômica que monetiza seres humanos, garantindo que um punhado de bilionários sobrevivam às custas de quem é obrigado a vender sua força de trabalho para subsistir.
Se queremos realmente proteger nossas crianças, não podemos depender apenas da boa vontade de políticos, das empresas ou do esforço individual das famílias. É preciso forjar a consciência comum da necessidade de superar o sistema e construir algo novo, em base a outras relações sociais. Mas, mais que isso, é preciso que essa consciência comum se transforme em ação coletiva por parte da classe trabalhadora, a única que tem verdadeiramente a chave para solucionar essa questão.