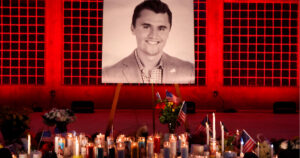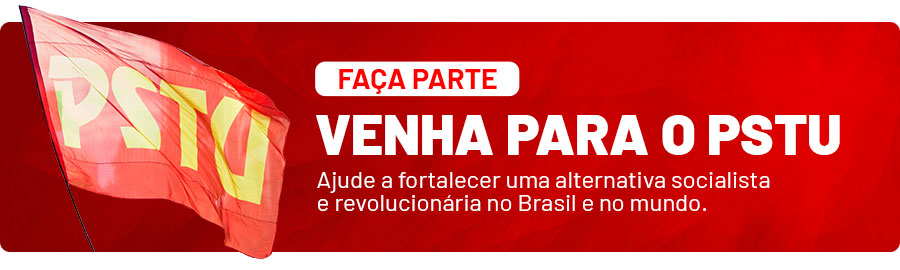Bolhas digitais e a balcanização do cotidiano
Como a vida cotidiana vai sendo corroída pela mediação dos algoritmos

Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, se sentindo tão isolados. A internet parece ter dado voz a quem não tinha o que dizer. O desenvolvimento da Inteligência Artificial tem alcançado, com relativa rapidez e consistência, avanços significativos. A cada mês, parece ser lançada uma novidade devidamente marketada como disruptiva. A cada lançamento, contudo, uma nova preocupação. Recentemente, a Google surpreendeu com seu novo modelo capaz de produzir vídeos sintéticos com alto grau de realismo. Não demorou para que alguém levantasse a mão e dissesse: Vocês vão ver isso nas eleições. Como se os vídeos produzidos pela propaganda eleitoral, até então com seres humanos orgânicos, gozassem assim de status de fidelidade à realidade e à verdade. Nada mais falso.
A preocupação com o uso dessas tecnologias para disseminação de fake news e desinformação é justa, e nossas experiência recentes com eleições corroboram a preocupação. Mas talvez esse seja apenas o caso extremo de uso. O problema começa alguns passos antes. Em um comercial premiado no final dos anos 1980, a Folha de S.Paulo, em parceria com a W/Brasil, já alertava que era possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. De alguma maneira o comercial já colocava, em um momento anterior à internet, o problema das chamadas narrativas, tão latente em nossos tempos.
Obviamente, cada indivíduo e setor social tem direito à livre interpretação filosófica e política da realidade. Mas a proliferação e o esgarçamento interpretativo trazem consigo o risco imanente da perda do comum. Ou seja, essa colcha de retalhos que chamamos de tecido social, fragilmente costurada com os fios da história, começa a se mostrar corroída. De repente, descubro que meu vizinho é um total estranho, e até o cigarro que fumamos passa a ser motivo de diferenciação, em uma espécie de balcanização da vida cotidiana. Não havendo um mínimo em comum, o que nos resta é a escalada de estranhamento.
E esse problema antecede o das notícias falsas e da desinformação, que são, em última instância, o sintoma mais evidente dessa crise. Apenas com verdades – sim, temos hábitos de consumo diferentes –, se conta uma mentira: a de que somos radicalmente diferentes por isso. E aqui se encontram dois grandes fenômenos culturais e econômicos modernos.
De um lado, o avanço da racionalidade neoliberal sobre todos os aspectos da vida, com seu extremo individualismo e a noção ideal de um indivíduo autossuficiente, um self-made man. De outro, a digitalização e a plataformização de muitas dimensões da vida social, começando pela centralidade do trabalho, mas passando também pelos relacionamentos amorosos e até a fé.
Plataformização e neoliberalismo parecem ter sido feitos um para o outro e catalisam essa mudança cultural que vivemos. Não tem como explicar a precarização de trabalhos como Uber, iFood, Amazon etc. sem falar de plataformas. E além. Basta ver que nas redes até as horas de sono são impelidas a se tornarem produtivas, com rotinas de sono repletas de cosméticos e banhos de gelo. É uma lógica que avança sobre a totalidade da vida. O efeito colateral disso tudo é uma forte culpabilização de si, acompanhada de um boom de doenças mentais.
E, no que diz respeito às plataformas de mídias sociais, a mediação algorítmica cumpre um papel central. A grande promessa vendida pelas big techs é que, com a coleta massiva de dados, é possível oferecer uma hipercustomização do serviço para você. O fato é essencialmente verdadeiro e traz muitos benefícios, mas não devemos menosprezar seus efeitos colaterais. Se Heráclito vivesse em nossos tempos, em vez de dizer que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, diria que um usuário nunca faz duas vezes a mesma pesquisa. O rastro de dados e cookies deixado já mudaria tudo na segunda vez. Se nossa vida é cada vez mais dependente de smartphones, mas os resultados de uma mesma busca diferem entre um e outro, está colocada a possibilidade de erosão do comum. Esse é um risco estrutural da mediação algorítmica.
A filtragem dos fatos na realidade é anterior às redes, é verdade. Cada veículo com sua linha editorial cumpria o papel de noticiar segundo seu enquadramento os fatos do outro lado do globo. A hipercustomização algorítmica, porém, eleva esse processo a um nível de massas e o que antes podíamos identificar claramente como linha editorial de um veículo, agora se esvai por trás da aparência abstrata de uma mediação técnica pretensamente neutra.
Como explicar que, diante da guerra em Gaza, talvez o conflito mais mediatizado que já tenhamos testemunhado e que acumula a triste cifra de mais de 50 mil mortos, ainda se façam escolhas narrativas? E aqui não me refiro aos atores políticos devidamente implicados na guerra, que historicamente sempre construíram suas versões. A promessa de que o acesso ampliado às informações parece não ter levado em conta o efeito narcotizante do excesso delas. E, diante da dor dos outros, não há consenso a priori, ainda fazemos escolhas.
É verdade, as bolhas não são exatamente uma invenção da internet, elas sempre existiram. Antes das redes digitais nosso fluxo de informação era mediado pelas redes sociais. Em outras palavras, nossas opiniões estavam seguras em nossas “panelinhas”. O que mudou com as bolhas digitais é que, na medida em que somos expostos a mais informações, nossa reatividade tende a aumentar, reforçando nossas preferências iniciais. Ou seja, seguimos nas bolhas, mas mais agressivos. Mas com um detalhe que faz toda a diferença: agora elas são bem lucrativas.
Há uns meses, o Supremo Tribunal Federal formou maioria sobre a corresponsabilidade das plataformas pelo conteúdo dos usuários. Sem dúvida, um passo importante no sentido da regulamentação de um setor econômico híbrido e fugidio à legislação. Um passo importante também no sentido de coibir casos extremos, discursos de ódio e campanhas sistemáticas de desinformação. As bolhas digitais e os filtros algorítmicos, contudo, persistem como dinâmica estrutural das plataformas de mídias sociais e da mediação técnica
Impedir a balcanização do cotidiano é tarefa civilizatória. Não basta esperar que tribunais regulem ou que empresas corrijam seus excessos. É preciso disputar politicamente o desenho dessas tecnologias. Isso significa ir além do debate jurídico-penal e por práticas coletivas que reconstruam espaços de encontro. Mas como garantir a liberdade de opinião e, ao mesmo tempo, coibir seu uso criminoso não deve ser apenas questão jurídica. Esse não é um tema menor. A tecnologia não vai esperar por nossas decisões políticas. Se a mediação algorítmica reorganiza o mundo em bolhas em uma dinâmica de polarização, precisamos reimaginar os espaços do comum: educação crítica, regulação democrática, e formas coletivas de produzir sentido são um bom começo.
Mas é preciso ir além. O que fragmenta nossas relações não são os algoritmos em si, mas o motor do capital, que transforma até nossa atenção e nossas relações em mercadoria. Plataformas não produzem apenas informação, produzem lucro a partir da extração de dados e da manipulação do tempo social. Enquanto aceitarmos que a vida coletiva seja subordinada a essa engrenagem, qualquer regulação será apenas um remendo. Não basta regular o capital digital — é preciso criticá-lo e superá-lo. Isso é mais que uma tarefa econômica: é reconstruir a vida comum como projeto coletivo.